Um poema
Gente na ponte
Wislawa Szymborska
Estranho planeta e nele essa gente estranha.
Sujeita ao tempo, não o reconhece.
Tem seu jeito de expressar seu desagrado.
Faz pequenas pinturas assim como esta:

Nada especial à primeira vista.
Vê-se a água.
Vê-se uma das suas margens.
Vê-se uma canoa forçando seu curso contra a corrente.
Vê-se uma ponte sobre a água e vê-se gente na ponte.
Essa gente claramente apressa o passo,
porque de uma nuvem escura
começou a cair uma bruta chuva.
A questão é que ali nada mais acontece.
A nuvem não muda a cor nem a forma.
A chuva nem aumenta nem cessa.
A canoa navega sem se mover.
A gente na ponte corre
no mesmo lugar de ainda há pouco.
É difícil passar sem um comentário:
Esse não é de modo algum um quadro inocente.
Aqui o tempo foi suspenso.
Deixou-se de levar em conta suas leis.
Foi privado da influência no curso dos eventos.
Foi desrespeitado e insultado.
Por causa de um rebelde
um tal Hiroshige Utagawa
(um ser que por sinal,
como sói acontecer, faz muito que se foi),
o tempo tropeçou e caiu.
Talvez seja só uma simples brincadeira,
uma travessura na escala de um par de galáxias,
em todo caso porém
acrescentemos o seguinte:
Tem sido de bom-tom há gerações
ter a obra em alta conta,
deslumbrar-se e comover-se com ela.
Tem aqueles para quem nem isso basta.
Ouvem até o barulho da chuva,
sentem as gotas frias no pescoço e nas costas,
olham a ponte e as pessoas,
como se lá também se vissem,
na mesma corrida que nunca termina
na estrada sem fim, eternamente à frente
e acreditam, na sua desfaçatez,
que de fato é assim.
Tradução de Regina Przybycien
Tenho quatro amigos
O primeiro é bonito, vaidoso, encantador: é um mitômano, uma espécie de perene ficcionista da oralidade, vive tecendo suas histórias enquanto ajeita a roupa e o topete, e ergue as sobrancelhas, como se passasse marca-texto no que diz, e confirmasse com seu interlocutor alguma coisa que é da ordem do pacto de bastidores que travaram antes da conversa, no qual tudo foi acertado. Nos conhecemos assim, nos arredores de nossas mentiras, e de lá nunca saímos, o amor pela ficção um elixir que tudo cura, e um certo comunismo de minha parte que garante um atrito útil com um certo fascismo da parte dele. Ficamos embevecidos quando, depois da décima cerveja, ele se dedica a erguer alguma revelação, esboçar alguma narrativa que, sendo sempre mentira, nos dará algum encontro com o novo, o inusitado, o insólito, o belo. É muito generoso, e todas as vezes causa problemas nas contas de bar por querer pagar demais; sua motivação nunca é a culpa, sempre é a alegria. Costuma dizer que é invejoso, e que deseja ser autor, ostentador, magnata cultural. Mas essa é outra de suas ficções: o que deseja é estar ali, centro magnético da mesa de bar, ou caminhando pela Rua da Glória, marionetando suas histórias, sua audiência, confiante no abraço de despedida feliz no fim da noite. Uma vez, estando com ele em um bar repleto, chorei; no bar cheio, era notável que as outras mesas se interessavam pela anomalia de um adulto se emocionando em lugar impróprio: ele se manteve impassível e solidário, silencioso, ouvinte, amigo.
O segundo é quieto e reservado; sei que é meu amigo, e na medida em que nossa vida errática permite sempre atesto com felicidade os esforços que ele faz para me encontrar, muitas vezes para que a gente converse bem pouco, como se não precisasse mais disso. Uma versão das amizades inglesas preconizadas por Borges, excluindo de saída a vulgaridade da confidência e prescindindo do diálogo sempre que possível. Dizem que era tímido na adolescência e, embora hoje esteja longe dessa coisa própria da timidez que é o impedimento à vontade, ainda parece se comunicar com essa área da experiência de uma maneira que me é alheia; me atribulo no trabalho (carreira, projetos) e na vida (dinheiro, brigas) de um jeito que parece nunca ter sido problema pra ele, senhor tranquilo de um saber que não possuo aí. Nosso horizonte de conversas se concentra em nossa experiência com nossos pais; nossos problemas com a literatura; nossas perturbações com as mulheres. Há coisa de um ano ele estava morando em X, cidade onde morei há muito tempo e que virou uma espécie de explicação e signo místico para mim, lugar em que me reconheci como pertinente e pertencente ao mesmo tempo em que me sabia excluído e menor, em um processo tão ambivalente que até hoje imagino ser essa uma de minhas características mais fáceis de detectar. Nos falamos no skype, ele muito triste e com frio, e fiquei numas de animar ele recuperando momentos de minha vida lá, perguntando “Ainda tem isso em tal rua?”, “Ali na esquina de A com B tem tal coisa”, “Você já foi em Z?”. Recuperava aqueles lances de memória já muito manipulados e gastos pelo uso, mas dessa vez com ele como protagonista, ele nas ruas em que andei, ele com minha calça jeans e camiseta branca, ele admirando coisas, experiências, mulheres inatingíveis, inesquecíveis.
O terceiro mora em um quarteirão solitário, perto da praia, numa casa repleta de livros. Seus irmãos, muitos, foram se mudando e ele foi ficando: vive com os móveis e objetos dos anos oitenta de uma casa que precisa de pintura, a casa onde ele nasceu e cresceu e onde continua até hoje. Minha admiração por ele é quase infinita: sua delicadeza tranquila, um homem corpulento, de quarenta anos, que nunca parece ter se desgastado tentando provar nada para ninguém e que portanto é desprovido da carapaça na qual eu, por exemplo, investi tanto tempo e dinheiro. É muito erudito (lê em russo) e rodado (passou dois anos vivendo no leste europeu; antes, morou num kibbutz) e é um dos melhores autores de sua geração, maior ainda por parecer não se importar com fato de ser quase desconhecido e seriamente desprestigiado para quem tem tanta imaginação e força, abundante a ponto de permitir que ele publique naquela lata de lixo da história que é o facebook posts como esse
Quando meu pais eram vivos sempre esperávamos uma visita que nunca chegava. Tínhamos que estar de banho tomado, com roupas sempre limpas, cabelo penteado. Alguém, nunca soubemos quem, podia chegar a qualquer momento na nossa casa. Os móveis tinham que estar impecáveis. Os brinquedos trancados em um quartinho. Minha mãe forrava a cama enquanto eu ainda estava dormindo sobre ela. Naquela época eu ainda não sabia, mas no meu caso a visita eram os livros. Essa é a minha love story, como diria Haňt’a. Escrevo isso enquanto indico um livro para uma amiga. Escrevo enquanto lembro da minha leitura de Jardim, cinzas, de Danilo Kiš. Escrevo enquanto, sem pensar muito, defino assim o livro para uma amiga: É como se o Tio Pepin de Hrabal irrompesse nos salões do Palácio dos Sonhos de Sandman e lá encontrasse as crianças da Rua Paulo e todos dançassem o Čoček.
Ou esse:
Devo a César Aira a ideia que os acidentes de memória criam todo tipo de monstros. Às vezes lembramos algo que já não sabemos se aconteceu daquela maneira ou foi nossa imaginação que criou e preencheu as partes que estavam faltando com simulacros dos acontecimentos, como os dinossauros do Jurassic Park criados a partir de rãs. Assim também são com os livros que nos surpreendem quando procuramos um trecho que imaginávamos de outra forma. Assim é com os livros que li, assim é com Moby Dick, assim é com Extinção. Ambos são relatos obsessivos sobre a extinção. E provavelmente não foi assim que aconteceu, mas foi assim que lembrei: Queequeg é Gambetti. Bernhard e Melville escrevem antibiografias. A grande baleia branca é a Áustria nazista. O redemoinho no mar e na linguagem. O apagamento da origem, da nação, dos pais, do poder. O curto-circuito entre memória e esquecimento. A carta nunca entregue de Kafka ao seu pai.
A menção a Aira não é trivial para mim: conheci Aira por ele, que me enviou um livro, Um acontecimento na vida do pintor viajante, que foi meu primeiro Aira, e que terminou me levando a escrever uma tese sobre Aira. O livro, lamentavelmente, se perdeu em minhas separações e mudanças, mas recordo que a dedicatória dizia, aludindo a minha pobreza e quase impossibilidade de comprar livros novos Meu amigo, ganhar não é comprar. É o único de meus amigos que tem a barba cheia, o mundo não sabe apreciá-lo, não conhece a alegria de sua proximidade em uma mesa de café, ao redor de uma pizza, a seu lado, caminhando, na calçada, na parte velha da cidade.
Esses são os quatro amigos.
Ratos diversos
Emputecido com aquele sacana, pensei Porra, que rato filadaputa!
Momento menor, ato reflexo do pensamento e, portanto, irrefletido: faux pas semântico, pois assim insultava o rato, toda a espécie, e nada mais.
Me ocorreu que há um momento no Diário de Manhattan, de Néstor Sanchez, em que ele menciona um rato do Harlem. O diário, sabemos, consome pouco tempo na vida de Sanchez, no início do inverno de 1975, e consiste em anotações muito breves devotadas principalmente ao sucesso de seus exercícios físico-espirituais, aprendidos com Gurdjieff (sendo destro, só escrever com a mão esquerda; em hipótese alguma cruzar as pernas; carregar os pertences em uma sacola, mantendo sempre as mãos livres; nos sonhos, tentar ver a própria mão, etc). Me afeiçoei muito a esse texto, nem sei a razão, o que talvez fale de uma verdade do afeto que justifica meu retorno ao texto, minha certeza de que o texto me diz algo, e continua dizendo a cada leitura. Há um diálogo platônico no qual se diz, como um elogio à fala, que um texto escrito, ao ser interpelado, sempre lhe responde o mesmo: vê-se que Platão era um asno ou, no mínimo, péssimo leitor.
Aqui está Sanchez, em Manhattan, com muito frio, e se propõe, como um exercício, a passar uma noite no Harlem, na rua, dormindo na rua – ou, pelo menos, sobrevivendo à noite na rua. Não é sua Nova Iorque hipster e asséptica: é 1975, uma cidade suja e putona, o cenário de Taxi Driver, a Times Square comentada por Delany em Times Square Red, Times Square Blue. Então tem esse sudaca doidão: é um homem que ignorou seu único filho por mais de vinte anos; é um autor que tinha sucesso, foi resenhado positivamente por Cortázar, imaginem o que era isso em 1971? Mas Sanchez caga pra tudo e, cheio de lances espirituais levados muitíssimo a sério, vai passar a noite no Harlem:
segunda 8
O vandalismo, sobretudo em crianças e jovens, é comentado com frequência como um grave problema nacional. Não há dúvida: visitando ontem a universidade, impressionou o espétaculo da esficácia destruidora em tudo, de novo o alarde da feiúra, somado à grosseria e ao grito de tudo. Vida neurótica do homem americano, que se proibiu o sussurro. Inconstância neurótica, ninfomaníaca, da mulher americana, que se proibiu o desejo futuro.
Tentando dormir no Harlem; primeiro, me aproximei de um latão de lixo em que improvisaram uma fogueira, fisionomias hostis, não fui bem-vindo. Impossibilidade do gesto solidário, subhumanidade. Em um beco, me encosto em uma porta que parece não ter sido aberta há muito tempo, e a temperatura, aqui, está melhor. Quando me aquieto e começo a me aquecer sinto algo e, levando a mão às costas, toco um rato, querendo também se aquecer. Nenhum temor de parte a parte.
“Nenhum temor de parte a parte”: esse trecho poderia ter sido o alvo de um comentário de Levrero em seu “momento rato”, no Diario de un canalla — ao falar de seu oposto, está falando da mesma coisa. O incidente funciona como uma espécie de parêntese à inauguração do leitmotif das pombas, que vai percorrer quase tudo que Levrero escreve desse texto até o fim, e que vai protagonizar a deriva de La novela luminosa. É também um dos raros momentos em que se tematiza, de maneira algo positiva, a condição filial: em Levrero o filho é estorvo (Juan Ignacio, em El discurso vacío), ou invisível, está à margem, não faz tema (sua filha, anônima, que recebe parte da bolsa Guggenheim, que tem um filho, em La novela luminosa).
Ora, se as pombas são anúncios do Espírito, o que são os ratos? Diante da resposta fácil (seu anátema), Levrero faz o que sabe fazer: presta atenção, descreve o que vê, e é melhor nem dizer mais: vejam aqui o que aparece quando, depois de passar um tempo brincando com a ratazana que apareceu em seu quintalzinho no prédio da Rua Rodríguez Peña, percebe que a cada movimento de aproximação que faz, o animal se esconde, mas sempre deixa a cauda fora do esconderijo:
Esse detalhe de sua ingenuidade despertou, mais que qualquer outro, uma ternura infinita em mim, uma ternura quase insuportável. Vi naquela ratinho um menino, com toda sua inteligencia, mas também com toda sua falta de experiência de vida. Quase diria que vi ali um filho. E isso que escrevo agora me umedece os olhos, me faz arder os olhos.
Por fim, há meu rato favorito na História da Literatura – uma descrição magnífica da amizade, do afeto, da gentileza gratuita e recíproca – que aparece num dos trechos do diário de Jules Renard que foi depois recolhido no Histoires naturelles. Renard está só em La Gloriette, é noite, e ele escreve: escreve precisamente a página que estamos lendo. A cada momento em que começa a escrever, percebe que um som parece fazer eco ao rangido da pena na página. Para de escrever, o outro som para; volta a escrever, o sonzinho volta. É só um murmúrio de um eco, mas há intenção, supõe Renard. Imagine o lampião, imagine o silêncio, o gradual teste empírico de hipóteses, até que Renard se dá conta: é um ratinho, roendo o pé da mesa. No silêncio total, o rato, ressabiado, espera. Mas quando há o som da escrita, o rato rói, tranquilo, a mesa, e se conforta, e Renard continua escrevendo, e nos descrevendo isso, e comenta que o rato, mais confiante, se aproxima, e começa a roer o seu tamanco.
A Amazon me diz “You purchased this item on September 16, 2002″. E, de fato, lembro: tive esse livro, o livro do Donald Richie sobre Ozu, na época em que eu dava aula de Inglês na Rua Fernandes Tourinho: lembro de fumar um cigarro enquanto esperava um espresso no restaurante na esquina com a Rua Sergipe, onde eu costumava almoçar, e cujo dono – cujo nome não me lembro – me ensinou a jogar gamão. Assim é a memória, injusta: ri com esse homem, comentei sobre muitas mulheres e coisas da vida, aprendi a jogar gamão com ele, e no entanto não lembro seu nome, lembro sua fisionomia e lembro desse dia em que, esperando que ele preparasse meu café, enquanto eu fumava e ele mesmo tinha um cigarro aceso na mão, folheava esse livro e descobri que alguém havia arrancado duas paginas do meio do livro.
Isso me deixou estupefato. Quem arrancou? Era um livro novo, intacto, comprado na Amazon. Fiquei com certeza, imagino, ponderando as razões daquelas paginas, o que havia nelas, ou se só acidente, ou gratuidade perversa. O que aconteceu ali? Lembro também que a chave de abertura do livro é algo como “Ozu tem como tema principal a família japonesa, que ele examinou de todo jeito, usando-a como microcosmo”: é isso, só que dito com a graça habitual de Richie, dito melhor, dito bem. Nunca esqueci.
Nunca avancei na leitura desse livro, e ele terminou se perdendo no fim de algum casamento, na voluntariosa perda de livros que fiz com que me acontecesse aqui e ali. E hoje, depois de muito tempo sem lembrar dele, ou mesmo de Ozu, lembrei dos dois, enquanto assistia Another Year, o filme de Mike Leigh de 2010. Uma vez, conversando com F, ele me perguntou se eu já tinha visto o último filme de Leigh – era outro filme, não era esse, essa é uma memória antiga, a alegria do encontro com F diz Isso é remoto, isso aconteceu faz muito tempo. Disse que não e perguntei É como o outro? Inglaterra, gente fudida, agonias da pobreza, etc? e ele riu e disse Sim, isso – só que esses personagens são mais fudidos ainda! E eu ri também, e depois vi o filme, e em momentos assim era muito bom ser amigo de F, como é bom lembrar dele assim, rindo, e de minha graça também, junto com ele, uma graça de velhos amigos e que pena que isso também acabou. Então esse é mais um filme de Mike Leigh, e há isso, Inglaterra, gente fudida, etc: uma concentração numa família miúda, em seu modo de vida, em hábitos, alguns matizes próprios. Esse filme é mais próximo de uma classe média bem média, e o protagonista tem um irmão: parecem duas versões de mim, uma que foi pra universidade e outra que ficou no subúrbio. Ou seja: me lembrei de Ozu, das famílias de Ozu, e me lembrei de minha vida também, pois para isso muito me serviu o cinema, a literatura, e arte: me afasta de minha vida com uma mão e me devolve com a outra. Enlevado pela passagem do ano que o filme inventa e oferece, imaginei um cotidiano presente e futuro, o envelhecimento que bate à porta, meu testemunho do sucesso relativo dos próximos e minha próprias réguas e cálculos de ascensão ou declínio E, sendo hoje dia dos pais, lembrei de uma das últimas vezes que almocei com meu pai: não numa mesa doméstica mas, como era nosso encontro nos últimos anos, em um restaurante perto do trabalho dele onde sequer éramos habituais, só clientes casuais e ordinários num dia de semana. Numa dessas vezes, não a última, mas uma das últimas, contei pra ele que tinha feito algo importante pra mim, queria dizer pra ele que tinha tido algum sucesso, alguma forma de sucesso – e o que lembro é que ele ouviu, e que ele pareceu estar feliz por mim, comigo, ali.

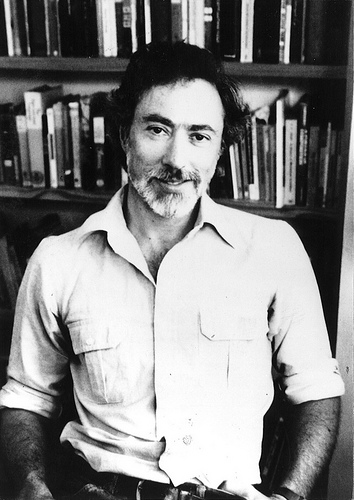







1 comment